Conto: Nero
NERO
A pesada porta de metal se abriu num estrondo. Dela, emergiram
dois homens sisudos vestindo jalecos desbotados, ambos portando pranchetas com
prontuários e listas. Defronte a eles, longilíneo corredor, branco, rigidamente
asseado, fluorescente: um aspecto de hospital, de laboratório; contudo, o odor
que emanava do lugar era digno do mais imundo estábulo; os sons, de um zoológico.
Lentamente, adentraram-no, ignorando a reinante cacofonia de
gritos animalescos. A galeria possuía recorrentes portas gradeadas, as quais
permitiam a investigação dos lúridos cativeiros que divisavam. Em cada um,
variados espécimes, desde cães, roedores, pequenos répteis até grandes símios.
Todos reduzidos às mais abjetas condições. Ali, a tarefa dos humanos de jaleco
era inspecionar a miséria animal e submetê-los a sórdidos experimentos.
No final da galeria, havia uma câmara indiscutivelmente protegida.
Escudada por imponente portão de aço negro, só se entrava em seu vestíbulo
portando cartão magnético. Na diminuta antessala, um armário munido de armas de
choque, além de prateleira contendo frascos medicinais, seringas e ampolas.
Salvaguardados por outra porta metálica encerrada com cadeado, os visitantes
podiam observar o interior através de visores. Dentro, o recinto era prisional:
uma cama simples, lavabo exposto, uma pequena mesa com um banco. Sobre ele,
lendo, avistava-se um homem, tão homem quanto os que estavam ali com jalecos;
todavia, infinitamente mais singular que eles. Enorme, corpulento, de aspecto
forte, tinha a pele alva, um tanto pálida. O rosto possuía traços rudes:
maxilar largo, orelhas grandes, nariz alto e oblíquo; a cabeça, raspada
recentemente, exibia pequenos tocos de cabelo loiro. Os olhos anis demonstravam
estranha vagueza, dissimulada pela sua aparente tranquilidade. No conjunto,
parecia um gorila albino.
Este era Nero.
Do lado de fora, ambos os captores transpareciam inquietação
enquanto preparavam um coquetel de remédios a ser administrados. Um deles
tentou tranquilizá-los:
– Já disse que ele está controlado há anos. Não há o que temer.
Pediram, então, que o prisioneiro colocasse as mãos pela
portinhola que dava para o exterior, no intuito de algemá-lo. Assim foi feito e
logo os dois homens adentravam o ergástulo, um segurando a bandeja com
remédios; o outro, a arma de choque. Nero encontrava-se sentado na banqueta,
plácido, embora estivesse com os membros atados. Havia pego um lápis que usava
para anotações e tamborilava a escrivaninha despreocupado.
Com a respiração carregada, um dos carcereiros aprontava a
seringa. A tensão era evidente e as batidas do lápis recrudesciam-na. Os homens
de jaleco sempre detestavam lidar com aquele encarcerado, mesmo sabendo que sua
condição estava aparentemente contida e que não houvera incidentes desde sua
admissão no Instituto, anos atrás.
– Uma agulhada, sim?! – disse o carcereiro, tentando amenizar o
clima de nervosismo.
Desta vez, porém, algo de extraordinário ocorreu. Não se sabe de
que recôndito da mente perturbada saíra a ideia; mas ele decidira fugir.
De inopino, o cativo, parando de tamborilar, segurou com força o
lápis em seus dedos. Num golpe rápido, impeliu os braços atados para cima e
cravou o instrumento no nariz do sujeito que iria lhe aplicar a injeção. Antes
que seu companheiro pudesse acionar o choque, Nero já estava sobre ele. Com um
murro de duas mãos, arremessou-o longe. Tudo ocorrera numa fração de segundo.
Não oportunizando reação, virou-se de imediato para o indivíduo
com o lápis nas narinas e, arremetendo, esmurrou-lhe a face repetidas vezes,
com suas mãos unidas como blocos de pedra, até que seu rosto tornou-se uma
massa disforme de sangue e ossos quebrados. O segundo veio novamente com a arma
de choque, grogue do baque anterior, apenas para ter sua perna quebrada por um
violento chute do gorila. Caiu desacordado.
Em poucos minutos, Nero livrara-se dos dois homens e soltara-se
das algemas. Sua câmara era um altar de sangue e ele, hediondo, seguia pelos
corredores num ímpeto violento. Arquejando e urrando, jogava as caixas e
gaiolas de pequenos mamíferos e répteis no chão. Destruía ampolas, seringas,
béqueres, enfim, qualquer material que encontrava pela frente. Tendo recolhido
as chaves dos captores, também soltava os bichos maiores de suas celas. Em
pouco tempo, o Instituto estava tomado pela nua natureza.
Seguranças ouviram a balbúrdia e vieram; no entanto, não
encontraram Nero e tiveram que lidar com alguns macacos enfurecidos. O
prisioneiro humano, tal qual um chimpanzé, havia descido três andares por um
encanamento externo e agora corria infrene pelo pátio dos fundos, escurecido
pelo cair da noite. Finalmente, antes de transpassar a cerca do perímetro,
esmagara o crânio de um vigia com um bloco solto de concreto. Estava, enfim,
livre.
A BESTA
A delegada Simone aguardava altiva no pórtico da sala de
interrogatórios, observando com desprezo os marginais ali detidos. De forte personalidade,
tenaz, um tanto impulsiva, não tinha escrúpulos. Ao lado, estava Jotapê. Este
era seu investigador mais próximo e diligente. Interrompendo as meditações da
moça, disse:
– Simone, tem algo estranho ocorrendo.
– Hmm... conta mais.
– Não bastassem os dois funcionários desaparecidos, hoje recebi
uma ligação do hospital. Tem um cara internado lá, todo fodido. Também trabalha
no Instituto.
– Pega o carro. Vamos dar uma olhada.
Cruzaram a cidade e foram recebidos no pronto-socorro. Na
entrada do quarto designado, postava-se um vigia com a insígnia do “Instituto
Darwin”.
O Instituto Darwin era um centro de excelência na pesquisa
farmacêutica e detinha impressionantes instalações na região. Também promovia
campanhas junto à comunidade, com óbvio intuito de relações públicas. A mais
conhecida delas era a manutenção de um zoológico privado, que funcionava tanto
como local de estudos veterinários quanto paragem de excursões escolares.
Ignorando as credenciais daquela instituição, entraram os
investigadores no referido cômodo. Sobre o leito, jazia um indivíduo anêmico,
amarelo, cuja perna encontrava-se suspensa e engessada; o pescoço, envolvido
por um suporte plástico. Ao lado dele, o médico de plantão parecia esperar os
dois.
– Então, este é o funcionário do Instituto? O que ocorreu? –
disse a delegada, sem cerimônia.
– Traumatismo crânio-cervical e fratura da tíbia. Conforme
afirma o paciente, resultado do ataque de um macaco. – respondeu o médico,
impassível, deixando-os a sós com o enfermo.
– Ah, conta outra, vai. – escarneceu a delegada.
– É a verdade... – gaguejou o homem, nitidamente contrariado.
– Sei... me conta uma coisa: o que sabe sobre os funcionários
desaparecidos?!
O paciente descerrou os lábios e esboçou um discurso; contudo,
demoveu-se da ideia e apenas balançou milimetricamente a cabeça, pensativo.
Depois, com gesto quase imperceptível, empurrou um cartão para a moça: “Cláudio
Augusto – Encarregado de laboratório”, era o que se lia, juntamente ao número
de telefone. Simone mirou os olhos do sujeito. Percebeu certa apreensão. Por
fim, recolheu o cartão em seu bolso, agradeceu pela ajuda e deixou o hospital a
passos largos. Jotapê ia em seu encalço.
– Simone, o que houve lá dentro?! Você largou o sujeito sem
perguntar nada!
– Não percebeu? Ele estava bem nervoso, não queria falar ali.
Aliás, por que raios colocaram um segurança na entrada do quarto?! Quando sair
do hospital, vou procurá-lo.
Logo que acabara de pronunciar aquela frase, seu celular tocou.
Recebia a notícia de um homicídio ocorrido num estabelecimento da periferia.
Dirigiram-se para lá: uma pequena mercearia de um bairro afastado. Os
empregados, ao chegar para trabalhar de manhãzinha, haviam encontrado o
proprietário morto. Aparentemente, seu pescoço fora quebrado. Pior: a face
estava irreconhecível, tendo sido dilacerada por algum objeto cortante. Não
havia testemunhas. Nada fora subtraído, a exceção de alguns mantimentos do
estoque. Para Simone, era caso de vingança privada.
Entretanto, o episódio, que parecia isolado, tomou contornos
imprevisíveis.
Nas semanas seguintes, ocorreram vários assassinatos similares e
em sequência. Sete no total, dentro de um mês. Todos com o mesmo padrão
hediondo. As vítimas sofriam as mais variadas torturas: ainda vivas, eram
evisceradas ou esfoladas, numa selvageria nunca antes vista pela polícia local.
Nenhuma delas tinha qualquer relação entre si. Os crimes sempre ocorriam à
noite e, geralmente, em localidades limítrofes da cidade, quase rurais, às
vezes muito distantes umas das outras. Nada de valor era levado, tão somente
víveres de primeira necessidade.
As investigações restavam infrutíferas. Testemunhas eram raras.
Em regra, vizinhos que acordavam à noite com berreiros alucinantes; contudo, a
maioria não estabelecera contato visual com o agressor, exceto um mendigo que
dizia ter visto um gorila branco numa senda. Foi ridicularizado. Os peritos
também haviam recolhido impressões digitais, unhas, cabelos e secreções do
criminoso, no intuito de traçar-lhe o perfil e checar os bancos de dados da
polícia; porém, não se correlacionavam a nenhuma entrada do sistema.
Simone, que chefiava o inquérito, estava à beira de um ataque de
nervos. Impetuosa, ordenou buscas em todos os cantos da cidade, por mais sujos
e medonhos que fossem. Mandou seus agentes consultarem moradores de rua,
traficantes, prostitutas, o diabo. A urbe fora revirada. Trouxe alguns
elementos para a delegacia central, pretendendo interrogá-los de maneira mais
“assertiva”. Nada. Também se procederam buscas nas cercanias rurais. O
resultado foi nulo.
Os jornais da cidade achincalhavam-na com manchetes torpes e
sensacionalistas. Diziam que a polícia era incompetente e que a delegada estava
promovendo uma limpa na população de rua, dada a truculência com que executava
os interrogatórios e vistorias. Advogados, promotores e ativistas ameaçavam
processá-la. A pressão popular também era grande. A turba se agitava em torno
de boatos e lendas. “A Besta” é como foi alcunhado o homicida. Os mais
histéricos diziam que o próprio Demônio havia saído do subterrâneo para punir
os pecadores.
Até que ocorreu o oitavo homicídio, no povoado conhecido como
Morro da Piedade. Em certa manhã, encontrou-se um homem enforcado, logo na
praça central. O corpo pendia do galho de uma árvore. Não bastasse, recebera um
corte no abdômen, de forma que suas vísceras permaneceram à mostra, suspensas.
A cena apavorante gerou tamanho frêmito na população que o episódio ganhou
destaque na mídia nacional. As fotos do horror viralizaram. Foi o caos. A
cidade respirava tensão. A caça ao psicopata era questão de saúde pública.
Simone, que já vinha sendo criticada, foi destituída da presidência do
inquérito. Assumia o superintendente de polícia, Otávio.
O IMPERADOR
Dois meses se passaram desde o primeiro homicídio. A vigilância
fora reforçada nos locais onde a polícia julgava serem vulneráveis. Deu certo:
não mais ocorreram assassinatos; todavia, a busca pelo homicida prosseguia
estéril.
Simone fora demovida para uma função subalterna. Agora, lidava
com inquéritos mais singelos, longe dos holofotes. Decidiu, portanto, voltar ao
caso dos funcionários desaparecidos. O Instituto colaborou, apresentando os
contratos de trabalho, as tabelas de ponto e relatórios do último dia em que
apareceram para trabalhar. Pediu-se o rastreamento telefônico, mas este
provou-se impossível. As famílias estavam desalentadas; depois de tanto tempo,
já não tinham esperanças.
Diante da situação insolúvel, Simone lembrou-se do indivíduo
hospitalizado, Cláudio Augusto, e de sua estranha recepção. Ligou para ele, o
qual aceitou depor, desde que os investigadores fossem até sua casa. A delegada
consentiu.
Na data marcada, deslocou-se até lá na companhia de Jotapê. O
sujeito morava numa vizinhança pobre com a esposa. Ao entrar, perceberam porque
ele requerera o depoimento em sua residência: estava praticamente tetraplégico.
Embora lúcido, falava com certa dificuldade e tinha sérios problemas motores.
Simone, então, acionou o gravador e iniciou o interrogatório.
– O senhor disse que tinha informações sobre os funcionários do
Instituto desaparecidos.
– Sim, é verdade. Sei bem o que aconteceu com eles, mas preciso
de proteção para depor... não é seguro.
– Posso providenciar sigilo e proteção. Só que o senhor precisa
fornecer provas válidas.
– Minhas informações são bastante válidas. Inclusive, sei tudo
sobre o seu homicida.
Jotapê arqueou as sobrancelhas. Simone não se deixou perturbar.
– Sobre “A Besta”?
– Sim.
– Precisará me convencer, e não será tarefa fácil.
Cláudio, então, iniciou um longo e pausado discurso,
ocasionalmente interrompido por algum espasmo desagradável.
Caio César era seu nome de nascença. Quando chegou ao instituto,
porém, ironicamente apelidaram-no Nero, o mais louco e infame dos imperadores
romanos. Tinha uma história triste. Abandonado quando bebê, foi criado num
orfanato e, desde cedo, já desvelava um temperamento cruel. Aos dez anos,
afogara outro menino numa banheira, de modo que foi internado numa instituição
psiquiátrica. Lá, no manicômio, havia sido tratado como um animal, vindo a
desenvolver ferina agressividade. Certa vez, feriu mortalmente um enfermeiro,
episódio que levou à interdição do lugar. Depois de desmedido tormento, em que
passara pelas mais escabrosas instituições, foi finalmente acolhido pelo
Instituto Darwin.
Na verdade, o Instituto precisava de cobaias para testes
proscritos em outros países. E a condição de Nero era propícia. Diagnosticado
com um caso raro de Síndrome de Jacobs, ser-lhe-ia ministrada fortíssima
medicação experimental, desenvolvida para tratamento de ocorrências graves de
estresse pós-traumático em militares.
A experiência foi considerada um sucesso. O paciente obteve
remissão de sua doentia agressividade. Aprendeu a ler e escrever. Interagia
normalmente com as demais pessoas e até criou laços de amizade com alguns. Os
pesquisadores, entusiasmados, exibiam os resultados em artigos e simpósios.
Exultavam o progresso da ciência. Viam-no como uma besta feroz, mas controlada,
que serviria a outros fins. Quase como um protótipo militar.
Todavia, tudo era feito de forma sigilosa, pois o Instituto
temia a repercussão de testes com drogas experimentais em humanos. Por isso, Nero
nunca saíra de lá, até o fatídico dia no qual destruiu todo o laboratório e
matou dois funcionários, agora tidos como desaparecidos. Cláudio sobrevivera
por um milagre. Ao ver os assassinatos nos jornais, soube imediatamente do que
se tratava.
Descreveu Nero em detalhes: um ogro albino de olhos vazios.
Após ouvir o relato, os investigadores estavam boquiabertos.
Simone, com sua indefectível teimosia, redarguiu:
– Como quer que eu acredite nisso tudo? A história parece ter
saído de um conto de ficção científica!
– Estaria delirando se tivesse inventado. Escute: o Instituto
quer abafar o caso de qualquer maneira, por isso não abri o bico antes. Agora,
nós três corremos risco de vida. Não zombe da situação. Neste exato momento,
milicianos a serviço do Instituto devem estar procurando Nero. Querem
eliminá-lo e apagar a história toda. Só que ninguém sabe o que eu sei.
– E o que seria?
– Nero, nos últimos tempos, vinha com estranhas conversas, de
que estava pronto para voltar à sua casa. Todos acreditavam que aquilo era mais
um de seus devaneios, mas algo me dizia que não. Hoje, sei que era um aviso.
Perguntei-lhe certa vez onde ficava sua residência. Ele respondeu-me com duas
palavras: “Brejo Alegre”.
– Conheço esse lugar. É uma roça bem isolada.
– Vá até lá. Garanto que seu assassino estará esperando. Que se
faça justiça.
Simone estremeceu. Embora desconfiada daquela narrativa,
decidira agir, mesmo sabendo que Otávio proibira sua participação no caso.
Despedindo-se, ordenou que Jotapê procurasse-o imediatamente e lhe apresentasse
a gravação. Disse que iria sozinha até Brejo Alegre, malgrado os protestos do parceiro,
e que ele não deveria se preocupar. Convenceu-o de que aquela era sua chance de
se redimir. O que diriam Otávio, os jornalistas e os populares quando voltasse
para a cidade com o psicopata preso?
Assim, Simone partiu de carro, obstinada, intransigível. Após
viagem de duas horas por precárias veredas de terra, finalmente alcançava o
ermo conhecido como Brejo Alegre. Era um pântano fétido criado pela ingerência
do homem. Em tempos pretéritos, havia ali uma fazenda, inundada após a
construção de uma barragem mineradora. Tudo que sobrara era um casebre
arruinado, sito numa clareira das partes altas.
A delegada, então, dirigiu até onde a senda lhe permitia,
margeando o pântano. Avistada a clareira, estacionou o veículo a uma distância
segura. A penumbra do crepúsculo repousava serena e atemorizante, mas ela
conseguia visualizar a choupana em ruínas. Sacando o revólver, prosseguiu
silenciosamente, camuflada pelo alto matagal.
Segurando a respiração, aproximou-se. Não se notava alma viva. A
choça praticamente não tinha telhado e as paredes estavam carcomidas, tomadas
de trepadeiras. Contornou-a, visando identificar quaisquer emboscadas; no
entanto, o lugar parecia entregue às moscas. Finalmente, tomou coragem e
adentrou-a preparada para atirar, seu corpo inteiro retesado de medo.
Para sua surpresa, porém, nada havia, apenas a silenciosa
desolação. Passou os olhos pelo cômodo exíguo. Notou tão somente um estranho
objeto acostado a um antigo fogão à lenha. Aproximando-se, percebeu o que era:
um crânio! Sobressaltou-se de início. Depois, deslocando-o com a ponta da arma,
descobriu que escondia uma tira de papel, relativamente nova. Nela, escrita a
lápis, uma frase: “Ninguém mente tanto nem mais do que a história: Caio, que
deveria ser César, tornou-se Nero”.
Sem compreender, guardou o excerto no bolso. Olhou ao redor.
Como as trevas da noite adensavam, decidiu retornar, desapontada. Refez o
caminho e, com o celular na mão, discava o número de Jotapê. Não atendeu.
Resignando-se, pegou a rodovia e retornou à cidade. Ao chegar à delegacia,
ainda elucubrava sobre a mensagem e visava Cláudio em busca de respostas.
Contudo, quando de sua chegada, Simone assustou-se. Os
policiais, vendo-a, apontaram-lhe as armas. O superintendente Otávio estava
entre eles e exclamou:
– Quem dera fosse sempre assim: os criminosos se entregassem de
pronto!
– Do que está falando?!
– Você deveria saber!
– Onde está Jotapê?! Ele lhe informou sobre o depoimento?!
– Jotapê está morto! Assim como o sujeito conhecido como Cláudio
Augusto! Ambos foram alvejados na casa deste último por uma arma parecida com
esta que você está carregando. E você estava no local do crime! Temos
testemunhas! Pode me dizer o que houve ou quer deixar para o processo?
Simone não conseguia falar. Gaguejou algumas palavras, mas não
saía som coerente de sua boca. Otávio, então, algemou-a.
O processo todo foi burlesco. Simone, julgada e condenada por
duplo homicídio qualificado, pegou vinte e dois anos de prisão. A defesa, mesmo
apresentando inconsistências no caso, não conseguira a inocência. O álibi era
fraco.
Na cadeia, humilhada e melancólica, tentou o suicídio por duas
vezes. Falhou em ambas. Decretada sua internação, foi transferida para o único
estabelecimento digno da comarca: o Instituto Darwin.
Na cela acolchoada, vestida com camisa-de-força, seus olhos
transpareciam dor infinita, um denso vazio. Enquanto aguardava o enfermeiro
trazer os medicamentos, olhou pela porta gradeada do cárcere. Para sua
surpresa, Otávio estava do lado de fora, observando-a com uma feição sardônica.
Ao lado, um homem enorme, loiro, de aspecto bestial, trajando roupas sociais e
um crachá do Instituto. Encarava-a com um vago e estranho olhar. De súbito, a
mulher emitiu medonhos gritos de desespero. Foi, enfim, amordaçada pelos
enfermeiros.


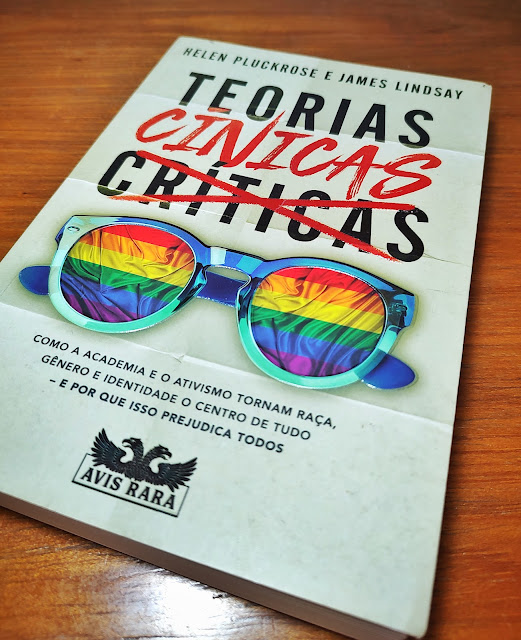
Comentários
Postar um comentário