A sacralização cristã da vida humana e os inevitáveis efeitos de sua recusa
Por Flávio Gordon
“Todos os que me odeiam amam a morte.” (Provérbios, 8,36)
Era o alvorecer do século 4.º, e as coisas não iam bem para o imperador Constantino, cujo exército padecia de fome e doença. Alistado à força nas legiões aos 20 anos de idade, o tebano Pacômio testemunhava com perplexidade a atitude de alguns de seus companheiros, que contrariava os costumes e a moral da época. O jovem soldado via-os oferecer comida e assistência aos necessitados, inclusive inimigos, socorrendo-os de forma indiscriminada, fosse qual fosse sua procedência. Curioso por saber que gente era aquela, descobriu-os cristãos. Interessado em saber mais sobre a natureza de tão excêntrica religião, capaz de inspirar tamanha compaixão – sentimento estranho à filosofia moral pagã, mesmo entre aqueles, como os estoicos, inclinados à prática de alguma caridade –, Pacômio começou a instruir-se na fé e, mais cedo do que imaginava, já havia tomado o caminho da conversão.
Logo nos primeiros séculos da era cristã, Pacômio – ou São Pacômio, como é hoje conhecido – notou precocemente algo que a história só viria a confirmar: o cristianismo foi, sozinho, a força civilizacional responsável por universalizar e consagrar a instituição da caridade. Contrariando o famoso adágio, quando em Roma, os cristãos não fizeram como os romanos. Ou seja: não se conformaram aos padrões pagãos de moralidade. Como explica o célebre historiador William E. H. Lecky, insuspeito de simpatia pela Igreja Católica:
“Não se pode sustentar nem na prática, nem na teoria, nem nas instituições fundadas, nem no lugar que a ela foi atribuído na escala dos deveres, que a caridade ocupasse na Antiguidade um lugar comparável àquele que atingiu no cristianismo. Quase todo o socorro era prestado pelo Estado, muito mais por razões políticas do que por sentimentos de benevolência; e o costume de vender crianças, os inumeráveis enjeitados, a presteza com que os pobres se candidatavam a gladiadores e as frequentes vagas de fome mostram como era grande a extensão dos miseráveis que ficavam esquecidos.”
A peculiar atitude cristã para com os desafortunados, que tanto chamou a atenção de Pacômio e de vários de seus contemporâneos, decorre da premissa segundo a qual toda vida humana é sagrada. Eis aí uma concepção totalmente inédita e estranha à cosmovisão clássica, que não valorizava o ser humano de modo intrínseco, universalista e incondicional, chegando mesmo a ter por desprezíveis as vidas daqueles que, a exemplo dos estrangeiros e dos escravos, fossem natural e socialmente excluídos da categoria de “cidadãos”. No universo antigo, o indivíduo só era digno de valor caso fizesse parte da engrenagem política e na medida em que pudesse contribuir ao seu funcionamento, quase como se o fim de sua existência fosse engrandecer o Estado. Fora disso, tinham-no por descartável e substituível como qualquer utensílio danificado.
“O espirito com que se tratava a doença e o infortúnio não era o de compaixão” – escreve o historiador da medicina Fielding H. Garrison –, “e cabe ao cristianismo o crédito pela solicitude em atender o sofrimento humano em larga escala”. Esse foi um dos motivos do verdadeiro choque cultural provocado pelo contato dos primeiros cristãos com o sistema moral pagão, quando práticas como o infanticídio, o abandono de recém-nascidos, o aborto, o sacrifício humano e o combate de gladiadores, até então tidas por absolutamente triviais, começaram a ser frontalmente condenadas por aqueles novos súditos do Império, para os quais a vida humana era inerentemente sagrada.
Sobre o sanguinolento “esporte” das arenas, por exemplo, escreveu o historiador William Stearns Davis que “ele ilustra à perfeição o espírito inclemente e o desprezo pela vida humana subjacentes à pompa, ao esplendor e às pretensões culturais da grande era imperial”. Coube ao cristianismo a missão de condená-lo moralmente e, por obra de imperadores cristãos como Teodósio I e seu filho Honório, bani-lo definitivamente. Quanto a isso, vale citar Lecky mais uma vez: “Dificilmente haverá reforma tão importante na história moral da humanidade quanto a supressão das lutas gladiatoriais, um feito que se deve atribuir quase exclusivamente à Igreja Católica”.
Mas, para além dessas práticas culturais humanamente degradantes então usuais na Antiguidade, os cristãos dos primeiros séculos, sempre orientados pelo princípio da sacralidade da vida, repudiaram uma outra: o suicídio. Antes e durante o tempo de Cristo, o baixo valor atribuído à vida humana por parte dos romanos não tinha implicações apenas no trato com a vida de terceiros, mas também com a própria. Assim, parcialmente inspirados no estoicismo grego, muitos romanos consideravam o suicídio como uma espécie de honra e privilégio (ver, sobre isso, History of the Later Roman Empire, de J. B. Bury). Eis por que o suicídio era usual em todos os estratos sociais, e vários pensadores e políticos romanos, notadamente os de inclinação estoica, não apenas elogiavam o suicídio como chegaram mesmo a cometê-lo. É o caso, entre outros, de Catão, Petrônio e Sêneca, além de vários imperadores.
Tão glamourizado chegou a ser o suicídio no mundo romano que o adágio “Abra suas veias!” passou a ser usual entre os membros da nobreza, quase como uma marca de distinção. Diante desse quadro perturbador, que havia começado a acometer cristãos ansiosos pelo martírio, vários pais da Igreja, como Clemente de Alexandria, Lactâncio, Gregório de Nazianzo e Eusébio de Cesareia, começaram a pregar contra o suicídio. E, por volta do ano 305, a Igreja condenou-o formalmente no Sínodo de Elvira. Em A Cidade de Deus, Santo Agostinho resume a posição canônica com palavras duras, e retira da prática qualquer resquício de glória ou dignidade:
“Grandeza de espírito não é o termo correto para designar alguém que se mata por lhe ter faltado coragem para enfrentar o sofrimento ou as injustiças dos outros. Na verdade, revela-se fraqueza em uma mente que não pode suportar a opressão física ou a opinião estúpida da plebe. Nós atribuímos muito justamente grandeza de espírito a quem tem a fortaleza de enfrentar uma vida de miséria em vez de fugir dela, e de desprezar os juízos dos homens, antepondo-lhes a pura luz de uma boa consciência”.
O trecho ajuda a revelar as premissas filosóficas fortes, porém quase sempre ocultas, dos que, hoje, desprezam o princípio cristão da sacralidade da vida humana e defendem o suicídio assistido (de que tratou meu último artigo) como formas de aliviar o sofrimento. A primeira premissa é a de que o sofrimento é algo como que antinatural, que destituiria a vida de todo sentido. O corolário é que a vida deve ser concebida como pura ausência de sofrimento, e que seu sentido último consiste em não sofrer. A segunda premissa é a de que, sendo a vida não mais que uma espécie de acidente natural, que se encerra absolutamente com a extinção física da matéria, a morte impõe ao sofrimento (igualmente concebido de modo materialista) um fim definitivo. Por óbvio, ambas as premissas integram uma cosmovisão imanentista radicalmente avessa à escatologia cristã, que concebe uma alma imortal e um sentido (espiritual, antropológico e escatológico) para o sofrimento terreno.
Cabe-nos, então, retornar à pergunta da jornalista australiana Margaret Wente a respeito da expansão do MAiD, o programa estatal canadense de suicídio assistido, pergunta com a qual encerrei o artigo anterior. “Queremos mesmo ser tratados – e tratar os outros – como se os humanos fossem dispensáveis?” – pergunta Wente, imediatamente após confessar-se perturbada com presentes tentativas de banalização “dessa forma macabra de terapia médica”. Mas a resposta já havia sido dada pela própria autora no começo de seu artigo na Quillette.
“Hoje, o Canadá é majoritariamente um país secular, avesso a ideais religiosos sobre a sacralidade de cada alma criada por Deus” – ali escrevera Wente, dizendo-se grata por essa circunstância cultural, e justificando o seu entusiasmo inicial com o programa instituído pelo governo de Justin Trudeau, que ela e a maioria dos canadenses viram como “uma vitória moral progressista sobre entraves médicos conservadores e retrógrados”. Sim, é justamente por ser um país secular, avesso ao princípio cristão da sacralidade da vida humana, que o Canadá pode agora banalizar e – a exemplo do beautiful people romano na Antiguidade – glamourizar o suicídio assistido. Aplaudindo a causa e reprovando o efeito, a jornalista não vê contradição entre celebrar a radical secularização das mentalidades canadenses, e em especial a recusa da sacralidade da vida humana, e lamentar a sua consequência inevitável, a mercantilização da morte e a descartabilidade do ser humano.
Imersa em secularismo ambiente tal qual um peixe no oceano, Wente não percebe que a sua perturbação com a evolução do MAiD é a mesma experimentada pelos primeiros cristãos com a naturalização do suicídio entre os pagãos. E, portanto, não percebe que somente o cristianismo, jamais o niilismo secularista, pode servir de antídoto civilizacional à onipresente cultura da morte, hoje manifesta em múltiplas facetas, e sempre revestida das mais piedosas intenções. E não, não é preciso ser devoto da fé católica para notá-lo. Basta reconhecer a importância civilizacional – notadamente na esfera da moral – do cristianismo, e dizer como a filósofa Simone Weil: “Eu não sou católica, mas considero os princípios cristãos como algo a que uma pessoa não pode renunciar sem se aviltar”.

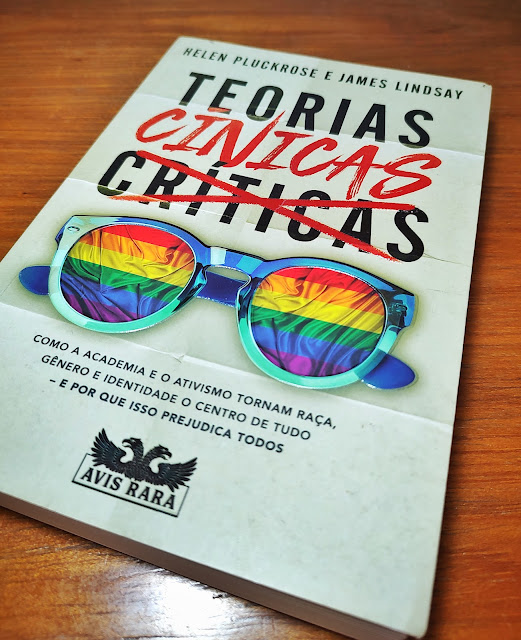
Comentários
Postar um comentário